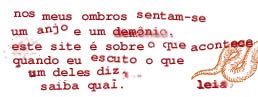Ela lambeu minha orelha
só lendo pra entender
Ela lambeu minha orelha.
Fê-lo com a delicadeza de um zéfiro nas manhãs antigas. Dríade, brincou no bosque dos meus sentidos. A ponta flexível vibrou no lóbulo e se encaixou nas cavidades retorcidas. Vai-e-vem. Labirinto úmido, labirinto inundado de sussurros, súplicas, ordens.
“Vamos?”
“Eu... vou.”
Foi meu vício quem respondeu.
Comi ambrosia nos seus lábios. Quis morrer nos seus braços – eu, a louca, ela, a camisa-de-força, meu corpo-terra-seca, ela-chuva. Choveu e eu bebi. Cavalo bravo, bufei, corcoveei – não de ódio, de alegria. De religião. Atéia, encontrei a deusa que abençoou esta descrente com a fé cega na sinceridade de seus suspiros.
Ajoelhou. Rezou.
Eu gritei num silêncio só meu.
Seu corpo, depois de amado, ficou cansado. Adormeceu e sonhou. As pupilas sob as pálpebras brincando agitadas.
A curva de seus quadris, o ângulo agudo do osso junto à carne farta. Para as nádegas existem as mãos. Para as suas, as minhas.
O vão sagrado entre as duas metades brancas feito maçã partida ao meio. Não tinha semente. Mas era de comer. Com a ponta da língua, feito mel. Chave na fechadura.
Ela gemeu, mas os olhos não se abriram.
Manhã clara me pegou na sua maciez. Desejei toda a beleza de seus dedos longilíneos, coxas entreabertas, pescoço de cisne, beleza sem penumbras, sem cortinas, sem janelas fechadas.
Eu abri a janela.
O sol foi cruel no seu rosto. Os olhos se abriram de pasmo. Espasmo. Contração. Convulsão. E era de dor. A louça que era branca trincou nas bochechas. O grito foi um guincho. Os seios, que eram torres, foram pó. O corpo, que era império, foi ruína. E ela, que era Éden, foi inferno. Anjo, caiu da graça. Condenada, queimou na estaca.
O sol fez dela uma montanha de cinza enegrecida sobre o lençol de seda púrpura.
Na ponta da minha língua, o gosto do fruto que madurou e apodreceu.
Ela lambeu minha orelha.
Fê-lo com a delicadeza de um zéfiro nas manhãs antigas. Dríade, brincou no bosque dos meus sentidos. A ponta flexível vibrou no lóbulo e se encaixou nas cavidades retorcidas. Vai-e-vem. Labirinto úmido, labirinto inundado de sussurros, súplicas, ordens.
“Vamos?”
“Eu... vou.”
Foi meu vício quem respondeu.
Comi ambrosia nos seus lábios. Quis morrer nos seus braços – eu, a louca, ela, a camisa-de-força, meu corpo-terra-seca, ela-chuva. Choveu e eu bebi. Cavalo bravo, bufei, corcoveei – não de ódio, de alegria. De religião. Atéia, encontrei a deusa que abençoou esta descrente com a fé cega na sinceridade de seus suspiros.
Ajoelhou. Rezou.
Eu gritei num silêncio só meu.
Seu corpo, depois de amado, ficou cansado. Adormeceu e sonhou. As pupilas sob as pálpebras brincando agitadas.
A curva de seus quadris, o ângulo agudo do osso junto à carne farta. Para as nádegas existem as mãos. Para as suas, as minhas.
O vão sagrado entre as duas metades brancas feito maçã partida ao meio. Não tinha semente. Mas era de comer. Com a ponta da língua, feito mel. Chave na fechadura.
Ela gemeu, mas os olhos não se abriram.
Manhã clara me pegou na sua maciez. Desejei toda a beleza de seus dedos longilíneos, coxas entreabertas, pescoço de cisne, beleza sem penumbras, sem cortinas, sem janelas fechadas.
Eu abri a janela.
O sol foi cruel no seu rosto. Os olhos se abriram de pasmo. Espasmo. Contração. Convulsão. E era de dor. A louça que era branca trincou nas bochechas. O grito foi um guincho. Os seios, que eram torres, foram pó. O corpo, que era império, foi ruína. E ela, que era Éden, foi inferno. Anjo, caiu da graça. Condenada, queimou na estaca.
O sol fez dela uma montanha de cinza enegrecida sobre o lençol de seda púrpura.
Na ponta da minha língua, o gosto do fruto que madurou e apodreceu.