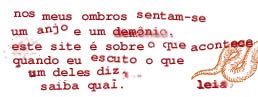Arquivo Morto - redivivo
Eu estava visitando o blog da colega internética Márcia, o Insanatorium - que está nos meus Parceiros, lado direito da página, lááá em baixo, e que recomendo a todos os pirados de plantão - e me deparei com um post entitulado Arquivo Morto.
Lembrei de um sonho que arquivei.
Quando adolescente, escrevi muita poesia. Material bem diversificado pra no mínimo dois livros. Já tinha até os títulos, as introduções e a ilustração de capa de um deles. Tinham até faixa-título, os danados, feito LP de banda de rock. Meus xodós durante muito tempo, meus bebês malditos. Onde é que entra mesmo a referência ao post da Márcia? Ah, é. O nome do primeiro livro era pra ser Arquivo Morto.
Não é que eu tenha abandonado o sonho de publicar. Só porque poesia não vende neste país? Imagina... eheheh. Não. É que com o tempo fui percebendo que aquela poemalha que noutra era me encheu o ego era composta basicamente de porcaria. Sem falsa modéstia.
Todavia e por todas as vias, há no meio dessa verseira qualquer coisa de bom. Talvez por ter sido realmente ruim na época; ruim de deixar guardado, bom de pôr pra fora, e como a escrita me serve como dilúvio, quero dizer que há poemas que ainda considero bons nessa multidão abandonada. Percorro as suas linhas e sei que apesar da passagem das estações eu ainda estou lá, adolescente, hesitante, absolutamente possessa. Como só o Demo, sentado aqui no meu ombro, poderia saber.
Tirando a linguagem pedante e a mania insuportável de recorrer a um palavreado pouco acessível, isso aqui até que é porreta. E bem sincero.
Ofereço aos endemoninhados, como último texto do ano, este longo farrapo do meu ser boneca de trapo.
Da Virtude Pecaminosa
Bate em meu peito o simulacro de um coração
Que sangra um caldo doce (não derivado de algo vivo):
Sou o féretro da pureza e o berço da frivolidade;
Bebo a essência de uma dor fictícia
Para esquecer-me da que foi minha.
Sou meu admirador mais devoto,
Meu crítico mais cruel,
O confessor dos meus pecados,
Meu pior inimigo.
E a vaidade...
É este o lacre sobre meu verdadeiro eu
E a chave para as portas da cela.
Eu não me recordo...
Para que nasceram realmente as belas palavras
Que atiro como escarro em descartável papel
Numa língua que admiro,
Cujo significado me escapa.
Minhas mãos não conhecem desabafo.
Minha boca não sabe rogar por absolvição.
E a vaidade torna belo o que é fútil,
Como o efêmero se torna caro,
E o trivial, esplendoroso.
Por um momento, eterno pareceu-me,
Não me lembrava da dor real:
Fantasiava doces ferimentos,
Medindo sua vã profundidade;
Fervilhava-me o sangue, jorrava farto
Das veias que eu mesma me partia
(O corpo meu em falsa carne viva
Simulando o sentir na carne morta.)
É a vaidade que julga belo o rubro tom do sofrimento
E o brilho inigualável duma lágrima
Que incinera a pele onde coleia
(É o capricho que a empurra para fora de meus olhos?).
A vaidade tem garras e peçonhas
Para cravar em chagas teatrais.
Eu me exponho minhas escaras,
Mas elas se assemelham a pinturas no rosto dum truão
Pronto para o baile de aberrações;
Borrões de tinta nos dedos inaptos do aprendiz
Que queria pintar a agonia
Com todas as cores da Criação;
Defeitos de nascença – trivialidade.
Eu, artista frustrada:
Fértil imaginação, estéril sentimento.
Olhei para o espelho em busca de alguém
Que se escondia sob uma máscara.
Ah, eu rasguei toda a sua rica fantasia;
Qual não foi meu júbilo ao julgar seu pranto alto,
Mas – ai de mim – não havia viv’alma ali atrás!
Por tudo que há de sagrado
E ainda se nada houver de sagrado,
Afasta da minha vista essa abominação.
Sim, por vaidade obrigo-me a olhar
Nos olhos das chamas (sim, que ardam os meus).
Por isso parece a morte bela e franca
Se uma flor a simboliza,
Como tudo o que o drama torna em arte mais solene:
A ironia do ser humano que foge de seus monstros
Quando é monstro a fugir da própria humanidade;
Do condenado que sorri e acena
Com a corda em torno do pescoço,
Da beleza assassina da espada que reluz
Ao brilho do Sol, que vem desfilar
Sobre o tapete vermelho de corpos no campo.
O que é mais sublime
Do que as lágrimas num rosto
Ambiciosas de superar a chuva?
Por vaidade – por vazio da alma,
Por medo daquilo que fere fundo,
Áspero, cru, por ser real.
Arranha tua pele até que sangre
E não mais sentirás coceiras.
Por vaidade,
Permito-me acrescentar mais cor ao sangue,
Mais poder ao carrasco,
Mais agonia ao lamento.
É a distância entre o pecado e a virtude
Maior do que o espaço onde se fundem?
Não é meu egoísmo mais do que decepção
Quando o temor se pronuncia sem jamais se revelar?
E a malícia – inocência deturpada
Ou insegurança travestida?
Minha arte? Meu abrigo e perdição.
Cárcere e mundo, salvação e solitude
Nos campos áridos da alma.
Quando de lendas vive o cético,
A hipocrisia perdoa o coração.
Sobra-me este mal, meu deleite:
Eu me sento só num canto escuro
E choro uma dor que não é minha.
01.02.1997 - É. Eu ainda não tinha feito 16.
Lembrei de um sonho que arquivei.
Quando adolescente, escrevi muita poesia. Material bem diversificado pra no mínimo dois livros. Já tinha até os títulos, as introduções e a ilustração de capa de um deles. Tinham até faixa-título, os danados, feito LP de banda de rock. Meus xodós durante muito tempo, meus bebês malditos. Onde é que entra mesmo a referência ao post da Márcia? Ah, é. O nome do primeiro livro era pra ser Arquivo Morto.
Não é que eu tenha abandonado o sonho de publicar. Só porque poesia não vende neste país? Imagina... eheheh. Não. É que com o tempo fui percebendo que aquela poemalha que noutra era me encheu o ego era composta basicamente de porcaria. Sem falsa modéstia.
Todavia e por todas as vias, há no meio dessa verseira qualquer coisa de bom. Talvez por ter sido realmente ruim na época; ruim de deixar guardado, bom de pôr pra fora, e como a escrita me serve como dilúvio, quero dizer que há poemas que ainda considero bons nessa multidão abandonada. Percorro as suas linhas e sei que apesar da passagem das estações eu ainda estou lá, adolescente, hesitante, absolutamente possessa. Como só o Demo, sentado aqui no meu ombro, poderia saber.
Tirando a linguagem pedante e a mania insuportável de recorrer a um palavreado pouco acessível, isso aqui até que é porreta. E bem sincero.
Ofereço aos endemoninhados, como último texto do ano, este longo farrapo do meu ser boneca de trapo.
Da Virtude Pecaminosa
Bate em meu peito o simulacro de um coração
Que sangra um caldo doce (não derivado de algo vivo):
Sou o féretro da pureza e o berço da frivolidade;
Bebo a essência de uma dor fictícia
Para esquecer-me da que foi minha.
Sou meu admirador mais devoto,
Meu crítico mais cruel,
O confessor dos meus pecados,
Meu pior inimigo.
E a vaidade...
É este o lacre sobre meu verdadeiro eu
E a chave para as portas da cela.
Eu não me recordo...
Para que nasceram realmente as belas palavras
Que atiro como escarro em descartável papel
Numa língua que admiro,
Cujo significado me escapa.
Minhas mãos não conhecem desabafo.
Minha boca não sabe rogar por absolvição.
E a vaidade torna belo o que é fútil,
Como o efêmero se torna caro,
E o trivial, esplendoroso.
Por um momento, eterno pareceu-me,
Não me lembrava da dor real:
Fantasiava doces ferimentos,
Medindo sua vã profundidade;
Fervilhava-me o sangue, jorrava farto
Das veias que eu mesma me partia
(O corpo meu em falsa carne viva
Simulando o sentir na carne morta.)
É a vaidade que julga belo o rubro tom do sofrimento
E o brilho inigualável duma lágrima
Que incinera a pele onde coleia
(É o capricho que a empurra para fora de meus olhos?).
A vaidade tem garras e peçonhas
Para cravar em chagas teatrais.
Eu me exponho minhas escaras,
Mas elas se assemelham a pinturas no rosto dum truão
Pronto para o baile de aberrações;
Borrões de tinta nos dedos inaptos do aprendiz
Que queria pintar a agonia
Com todas as cores da Criação;
Defeitos de nascença – trivialidade.
Eu, artista frustrada:
Fértil imaginação, estéril sentimento.
Olhei para o espelho em busca de alguém
Que se escondia sob uma máscara.
Ah, eu rasguei toda a sua rica fantasia;
Qual não foi meu júbilo ao julgar seu pranto alto,
Mas – ai de mim – não havia viv’alma ali atrás!
Por tudo que há de sagrado
E ainda se nada houver de sagrado,
Afasta da minha vista essa abominação.
Sim, por vaidade obrigo-me a olhar
Nos olhos das chamas (sim, que ardam os meus).
Por isso parece a morte bela e franca
Se uma flor a simboliza,
Como tudo o que o drama torna em arte mais solene:
A ironia do ser humano que foge de seus monstros
Quando é monstro a fugir da própria humanidade;
Do condenado que sorri e acena
Com a corda em torno do pescoço,
Da beleza assassina da espada que reluz
Ao brilho do Sol, que vem desfilar
Sobre o tapete vermelho de corpos no campo.
O que é mais sublime
Do que as lágrimas num rosto
Ambiciosas de superar a chuva?
Por vaidade – por vazio da alma,
Por medo daquilo que fere fundo,
Áspero, cru, por ser real.
Arranha tua pele até que sangre
E não mais sentirás coceiras.
Por vaidade,
Permito-me acrescentar mais cor ao sangue,
Mais poder ao carrasco,
Mais agonia ao lamento.
É a distância entre o pecado e a virtude
Maior do que o espaço onde se fundem?
Não é meu egoísmo mais do que decepção
Quando o temor se pronuncia sem jamais se revelar?
E a malícia – inocência deturpada
Ou insegurança travestida?
Minha arte? Meu abrigo e perdição.
Cárcere e mundo, salvação e solitude
Nos campos áridos da alma.
Quando de lendas vive o cético,
A hipocrisia perdoa o coração.
Sobra-me este mal, meu deleite:
Eu me sento só num canto escuro
E choro uma dor que não é minha.
01.02.1997 - É. Eu ainda não tinha feito 16.